Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Domingo, 21 de setembro de 2025 - 14h29

Inicialmente é preciso desatacar que o Bom Senso
é acionado pelo adjetivo “bom” e que “tem as qualidades adequadas à sua
natureza ou função’: ‘benévolo, bondoso, benigno’ – abonado, abono,
bonificação”[1]: ao passo que o senso comum
remete a um senso apenas “comum”, trivial.
A consciência primária do senso comum
(praticamente limitada à socialização primária: “o que aprendemos em casa, na
infância”) nos leva a tomar água quando temos sede, mas a consciência em
estágio superior (uma consciência acerca da própria consciência) nos inclina a
tomar água mesmo sem sede: no âmago do Bom Senso, o conhecimento adverte que
isso evita problemas renais.
Também é possível dizer que, enquanto o senso
comum se aplica ao pré-conceito (o “dado-dado”, em sua superfície), aquilo que
desconhecemos (o que pesamos que sabemos, antes de sabermos), o que está posto
antes (pré) e que antecede ao conhecimento (o conceito em si), o Bom Senso nos
exigiria exatamente o contrário, isto é, um aprendizado, uma superação, o
aprofundamento (desvelamento das aparências), a busca pela substância (essência
ou conceito). Estaríamos passando do juízo de valor (pré-conceito) ao juízo de
realidade (conceitual por definição).
A superação de um, em outro, formaria as
referências da Massa Crítica, e, se o processo se intensifica, com o
amadurecimento, aprofundamento, da análise crítica, seja sobre as relações
sociais, seja em virtude da reavaliação, do cenário político, econômico,
revendo-se o próprio “fazer-se política”, o indivíduo se transforma em sujeito
(da passividade à militância) e, concomitantemente, às mudanças constituídas em
sua realidade. É o que se denomina de senso crítico.
Em outra exemplificação, o senso comum nos
recomenda não avançar diante do sinal vermelho, seja no trânsito seja numa
relação ou no saldo da conta bancária; no entanto, o Bom Senso nos diz para
avançarmos um sinal vermelho se estivermos num cruzamento, numa madrugada, em
local ermo, e sem nenhum veículo à frente. Como nos ensinou Paulo Freire:
Na verdade, a curiosidade
ingênua que, “desarmada”, está associada ao saber do senso comum, é a mesma
curiosidade que, criticizando-se, aproxima-se de forma cada vez mais
metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de qualidade mas não de essência[2].
Sem um objetivo crítico (ponto de partida do senso crítico), o objeto
criticizavel nunca será cognoscível, posto que não avançaremos na sua análise,
no entendimento que nos (e)leve à condição de superação do nível auferido pela
Massa Crítica (racionalidade, conhecimento, lógica) – ou seja, sem o
conhecimento que, obviamente, já configure a própria implicação do senso comum
superado na forma do Bom Senso, não há Massa Crítica.
A passagem do senso comum ao Bom Senso exigira um certo nível de
distinção, de verificação da realidade, da essência, uma “superação”, ou, de
modo semelhante, podemos dizer que enquanto o “aprender” está para o senso
comum (em sua superação), o “apreender[3]”
(apropriar-se, tornar orgânico) está para o Bom Senso. Por isso o Bom Senso
estaria para a práxis (reflexão/ação), enquanto o senso comum estaria, digamos,
para as práticas sociais e seus costumes.
Se há ou deve haver um “saber-fazer” em cada atividade artística,
laborativa, prática, política, sob o Bom Senso que se espera de uma consciência
que ultrapassou os níveis primários (praticamente reativos), o mesmo
“saber-fazer” será condicionado à nossa capacidade de apreensão: tomando tal
conhecimento para nós, internalizando-o, será um princípio ativo dali em diante[4].
Esta é a ideia de apreender, ser ou tornar orgânico, no plano
individual, ao passo que, para a classe social, exige-se uma consciência
amplificada por toda a classe social, como uma forma de sustentar um substrato
comum e generalizado. Esta passagem do individual à classe social tanto
exemplifica a grandeza da superação exigida, quanto permite que vejamos a
Autoeducação Política em andamento.
Se o senso comum nos diz que é preciso lutar sempre por nossos direitos,
o Bom Senso nos inclina a lutar pelos direitos sociais, trabalhistas, pelo meio
ambiente e assim, de algum modo, nos ligarmos a movimentos sociais que
partilham do Princípio Civilizatório. Do mesmo modo, o Bom Senso nos leva a
refletir quando devemos avançar, parar e até recuar, no cenário político.
Marx e Engels[5] trariam a superação da
consciência de classe em si em razão da necessária e obrigatória “consciência
de classe para si”. O Bom Senso nos demonstraria que agir em conjunto nos
traria melhor sorte no resultado – e quanto maior o conjunto (do mutirão à
multidão) melhor. No senso comum popular equivale a dizer que “andorinha
sozinha não faz verão”.
Pensemos agora num aspecto mais prosaico: senso comum é aprender com os
próprios erros. Correto? E Bom Senso seria aprender com os erros dos outros,
evitando-se que fossem seus, nossos, meus erros.
Se sou criança e coloco o dedo na tomada e tomo choque, o lógico seria
aprender com o que fiz de errado e não fazer mais; porém, posso me antecipar e
apenas observar outra criança fazer isso e ver que não gostou da experiência:
se usasse o Bom Senso (aprender com os erros dos outros) não passaria por tal
situação – mesmo que tivesse curiosidade.
Quando adultos, podemos aprender com os outros (apreender uma valiosa
lição) e assim nos distanciamos dos erros alheios, que, aliás, podem ocasionar
punições mais severas, como na culpa (involuntária, mas predizível) e no dolo
(intencional). As penas aqui são diferentes, maiores para o dolo.
O Bom Senso se anteciparia ou diminuiria o impacto da autocrítica, pois
que evitaríamos alguns erros. Afinal, aprender com os erros dos outros tem
uma forte ligação com a prudência, cautela ou prevenção. O que é uma
virtude individual, tanto quanto é política e jurídica – podendo ser
institucional.
No âmbito jurídico, por exemplo, há legislações de proteção de dados e
de Inteligência Artificial, regulatórias de questões tecnológicas e que não
trazem conceitos técnicos específicos, uma vez que a tecnologia avança muito
rápido. Procura-se atentar mais especificamente aos Princípios Jurídicos,
pensando na prevenção (proteção dos dados, meio ambiente) antes que o ilícito
se instale.
Se fosse possível antecipar uma breve conclusão, diria que o senso comum
está para a “consciência de classe em si”, enquanto o Bom Senso está para a
“consciência de classe para si”.
A consciência de classe limitada, inicial, forjada pela experimentação
empírica, prefigurada pela experiência local de um determinado “chão de
fábrica” (pouco mais do que prescritiva), transforma-se em consciência de
classe ampliada, orgânica, comunicando-se amplamente com outras “consciências
de classe de um chão de fábrica específico”. É esta passagem que nos leva,
enquanto classe social, a rejeitar as formas de sujeição, objetificação
(coisificação) e, portanto, permite-nos negar, combater, anular (proscrever,
banir) a opressão: também por isso seria uma “proscrição da prescrição”[6].
É como se disséssemos que a consciência de classe se amplia,
metamorfoseia-se em sua substância política, reflexiva, propositiva, indo ao
encontro do humano genérico. A quantidade crescente de chãos de fábrica, mas
ainda isolados, muda de substância e se sintetiza em outra qualidade política,
organizacional.
Historicamente, ao menos até o século XX, da consciência de classe
limítrofe se encaminhou politicamente a uma consciência de classe ampliada (se
comparada ao século XIX). No século XXI (precarização total, uberização) houve
uma redução nessa amplitude, no âmbito da identificação política de classe e,
portanto, uma retração na expansão da consciência de classe dos subalternos:
suportando-se níveis semelhantes ao escravismo, além da coabitação com o
proselitismo da expressão “trabalho análogo à escravidão”. Quem sente a
pauperização ou a escravização não a sente pela metade – ou metaforicamente –,
mas sim em sua plenitude.
Esta análise acerca da “consciência de classe para si” expressaria uma
abordagem do tema sob a ação do senso crítico: ainda que limitada pelo objetivo
desse texto, é uma análise muito superior à consciência primária, rarefeita na
socialização primária e também é superior à consciência de classe em si.
Podemos avançar com uma síntese que traria o senso comum limitado aos
afazeres, à sobrevivência[7]. Sob a ação do senso
crítico, o saber-fazer não mais estaria distante do “fazer-se política” e esta
combinação entre conhecimento, investigação, reflexão/ação (práxis)
transformaria não só o indivíduo (a “mônada isolada”, uberizada) como (ainda
mais) a realidade opressiva que assim o conforma. Se este fluxo de aprofundamento
do conhecimento e da ação se evidencia, mesmo em tempos mais acirrados no
embate político, ideológico, em que prosperam as distopias, é possível
verificarmos a transformação da massa bruta em Massa Crítica.
Nós nos politizamos à medida em que agimos politicamente nos vários
sentidos e segmentos que formam nossas vidas. O “fazer-se política”, no bojo do
senso crítico, exige o amadurecimento intelectual, a fim de que a análise
política não seja desvirtuada, mutilada pelo fundamentalismo, sectarismo, ou
limitada ao “agir por agir”. Neste último caso, as consequências são ainda mais
graves, pois, um dos motes do Fascismo é exatamente esse: “a ação pela ação”.
Em outras palavras, a práxis que serve à emancipação é acondicionada por
dupla força: reflexão (investigação, estudo, aprendizagem conceitual) e ação
(radical, revolucionária das piores raízes sociais que prescrevem a sujeição).
Somente a práxis (reflexão/ação) pode proscrever a prescrição.
Portanto, senso comum é aprender com nossos próprios erros, nos tornando
mais preparados para o que possa advir de nossa caminhada. E Bom Senso é
aprender com os erros dos outros, para não se passar pelos mesmos problemas,
dissabores (apreender). Cada um a seu modo, o senso comum sendo restrito e
imediatista, os dois sentidos nos trazem sabedoria e conhecimento.
Em muitas circunstâncias, o senso comum nos recomenda a “deixar como
está, para ver como é que fica”; entretanto, como diz o ditado popular (Bom
Senso), do interior do Piauí, “a desgraça do pau verde é ter o seco encostado.
Vem o fogo, dá no seco e deixa o verde sapecado". É a sabedoria popular
alertando para os cuidados em termos companhias inadequadas.
Uma das definições mais aceitas sobre o que é
política – quais seus elementos de constituição, seus meios e fins – nos remete
à ideia de decisão. Desse modo, faz política quem decide.
Sem emancipação e autonomia (bem como a fruição
da liberdade) é fácil admitir que não se decide sobre nada – apenas segue-se um
protocolo ou ordens alheias, ditas superiores, seguindo-se a heteronomia.
Ora, a obediência à hierarquia e a imposição por
meio da heteronomia anulam ou retraem, precisamente, a autonomia – porque não
se age em virtude das próprias regras ou se está sob regras nas quais não se
teve grande “envolvimento e participação política” nos momentos de seu feitio e
realização.
Neste sentido ainda deveríamos acrescentar a
consciência política, dos próprios atos e acerca do objeto a ser deliberado, da
configuração de forças políticas que gerem o coletivo em que se vota ou
delibera, e, é claro, das finalidades políticas propostas: os objetivos que se
encontram no interior do objeto de deliberação política.
Do ponto de vista da principiologia política,
acenam – neste amplo cenário – os princípios da racionalidade, da
proporcionalidade, da razoabilidade. E o consequencialismo, isto é, as
consequências políticas, individuais e coletivas, vindouras de tais decisões,
advém do próprio exercício da autonomia naquele momento.
Afinal, só age com autonomia (que não seja
limitada ao exercício do “direito de propriedade”, da liberdade sem limitações)
quem não se opõe à emancipação (livre da subjugação, do fanatismo, do
irracionalismo, do negacionismo).
E, ainda neste segmento, comporta dizer que essa
racionalidade política se aplica de modo prático à avaliação dos próprios atos
e dos movimentos políticos (partidos políticos, agremiações, associações,
organismos coletivos) em que se esteja envolvido (daí a obrigação do
“envolvimento político”). Tais escolhas políticas nos conduziriam ao Bom Senso,
à avaliação política razoável (racionalidade política) sobre a realidade
política e a aplicação prática dessa mesma racionalidade empregada
(razoabilidade, proporcionalidade). Este entendimento político pode
corresponder à responsabilidade política (a partir das consequências políticas
predizíveis).
O “envolvimento político” é condizente com a
ideia de participação política. Envolver-se para participar: há uma
pequena/grande diferença neste caso, uma vez que alguns indivíduos participam
desde o início com experiência política e consciência, mesmo (ou sobretudo) em
situações políticas novas, e outros se apresentam em estágio inicial de sua
aprendizagem política.
Essas considerações permitem visualizar a
“maturidade política” existente (ou não). Tanto quanto a restrição ou a
ampliação da análise racional acerca da política, do seu funcionamento mais
específico, de uma Sociologia Política, a capacidade de elaborar ou de
apreender significados políticos, tudo isso nos remete à consciência política –
enquanto reflexão política e práxis (transformação política). Por isso,
alguns/algumas têm mais clareza política (outro elemento da lógica política) e
outros/outras seguem atuantes a ideologias, aparências, visões deturpadas da
seara política em que estejam envolvido/as.
Neste momento em que já chegamos, ainda que
muitas referências sejam ausentes ou estejam apenas mencionadas, temos como
tratar da “participação política”. É claro que fascistas, nazistas, racistas
também participam e ativamente da política. No entanto, não é disso que
tratamos aqui, uma vez que a racionalidade constante no Bom Senso (de quem
assim age e decide de forma emancipada) tem por pressuposto e consequência a
emancipação política e a dignidade humana. Esta é a única ação política
validável: confluente à condição humana, ao “fazer-se política” em virtude da
emancipação, e este é o ponto central, posto que a emancipação é superposta e
muito superior à autonomia (que pode ser do tipo pós-moderno: fragmentação
política, desconexão política).
Dito de outro modo, podemos advertir que se há,
portanto, fruição da emancipação, então, está em vigor a dignidade humana:
libertária, autonomista, emancipatória. Por isso, a guia da participação e da
ação política é a dignidade humana. Pois, a dignidade humana condiciona,
porquanto seja o pressuposto da condição humana, a própria emancipação. A
dignidade humana é o fim, a emancipação é o meio. Este é o prisma da Educação
para além da exceção.
A participação política que tratamos aqui, já
subentendida claramente, visa a emancipação e tem por fundamento a condição
humana, o respeito integral aos Direitos Humanos, aos direitos fundamentais, à
Constituição Federal de 1988, ao Estado Democrático de Direito (República,
federação e democracia). Fora desse escopo, como dito, não se reconhece a
emancipação e somente se visualiza uma “participação política” distorcida,
corrompida, dissociada da socialização, interação social.
O que tratamos, inclusive como Princípio da
Participação Política, tem fundamentos políticos e pressupostos humanistas bem
diferentes. É claro que não cabe idealismo, ingenuidade, proselitismo de
militância adstrita à conquista de simpatia ou de poder político.
Trata-se, como restou claro desde o início, que
a emancipação é o chão firme (mesmo que também seja uma bússola política,
moral), por onde se enfileira a autonomia (ação e decisão) e sob as condições
políticas em que a dignidade humana é uma busca racional. Ou é assim, em que pese
a realidade política seja catastrófica, ou há sucumbência (destruição política)
mediante a negação da própria Política (Polis).
Agora seguindo maiúscula, a Política se impõe,
porque, no espaço público em que estamos e nos constituímos, realisticamente,
nossas ações, reflexões políticas e decisões políticas não podem negar os
direitos de participação política de quem mais queira intervir se e quando
apresentarem-se dentro do mesmo prisma da dignidade humana. As posições
políticas, as visões de mundo, as seleções políticas e as escolhas impostas
podem e devem variar (pluralismo político), porém, nunca será móvel a certeza
do caminho e do objetivo final: a emancipação política e a negação da exceção
embrutecedora.
Assim, por fim, podemos/devemos pensar que em
todo lugar, todos os dias, a qualquer hora – individualmente ou coletivamente
–, nós temos a obrigação política e moral (bússola moral constitutiva da
dignidade humana) de aplicarmos os princípios da realidade política, do
envolvimento político e da participação política consequente, racional, sobre
os fins e meios que sejam de inteiro valor humano.
Isto é realismo político, não é fantasia, é a
racionalidade política alinhada com a Utopia – o desejo de construção de novos
patamares das atividades e das relações políticas. É uma tática política, que
também implica em avaliar e retroceder, para melhor avançar – ou primeiro
recuperar, garantir ou consolidar, para, em seguida, novamente, requerer,
fazer-se a luta política, expandir e aprofundar.
No cálculo político – selecionar, escolher,
aplicar os meios aos fins –, a estratégia política deve equacionar a
racionalidade aplicada à adequação política de meios (validáveis pela Ética,
sendo justos) e fins: universais, justificados no universo da dignidade humana.
O que é tolerável, o fanatismo religioso ou a promoção de formas de
sociabilidade política livres, justas, igualitárias?
A convivialidade política, ainda mais quando
envolta na sobrevivência política coletiva, da democracia, tem uma única opção:
escolher de forma inquestionável a tolerância política que exclua todas as
formas de intolerância política, fanatismo, obscurantismo (aplicando-se o
sistema do banótico: banimento). Isso nos leva ao início: racionalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, em que se tem como objetivo claro a dignidade
humana. E também à ideia de que, em face da prevalência da dignidade humana, o
banimento político não só é viável, como é uma imposição lógica.
Se o senso comum acerta ao dizer que “a cada escolha há uma renúncia”, é preciso ter a clareza meridiana do Bom Senso, no sentido de que escolhas pelo viés do fanatismo, obscurantismo, negacionismo, Fascismo, impõem a renúncia da humanidade e da própria racionalidade. E a esses e a essas nós demos impor a exclusão política (a suspensão dos direitos políticos é um exemplo da constitucionalidade política emancipatória).
[1] CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua
Portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro, Lexikon, 2010.
[2] FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2021.
[3] “Trazer para si”.
[4] FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler – em três artigos que se
completam. São Paulo: Editora Autores Associados, 1986.
[5] MARX, Karl. Manuscritos económico-filosóficos. Lisboa: Edições 70,
1989.
[6] Tornando-se proscritas (banidas) as prescrições
(determinações) das formas opressivas de nossas vidas.
[7] O senso comum está para a consciência primária, assim como
o Bom Senso está para a “consciência da consciência” e, por sua vez, o senso
crítico nos explicaria que a “consciência é a consciência da consciência”.
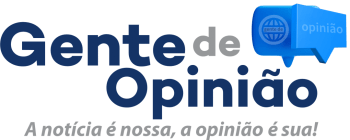 Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)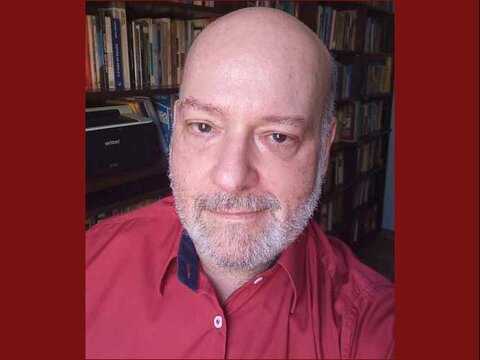
Educação para a emancipação - e para a autonomia (1)
Este texto tem um formato diferente, com o uso de poucas notas de rodapé e com as questões sob debate demarcadas como títulos entre uma citação dire
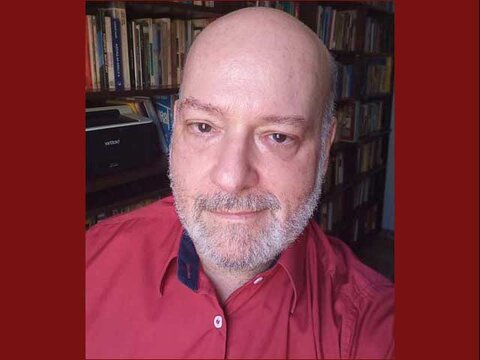
ÉTICA: Ciência, técnica e educação (1)
Podemos avaliar que não estaríamos em desacordo com Morin[1], ao precisarmos a necessidade de uma educação científica (contra o negacionismo[2]), qu

Freire - Autonomia, sem anemia
Para adultos, jovens e crianças- veja se confere- naquilo que te infere(Crianças rimam com esperanças) Freire da revolução- da vontade emancipada-

O oprimido de hoje não pode ser o opressor de amanhã Paulo Freire Ao homem bom, basta a consciênciaJuiz Oliver W. Holmes Jr. Do lado de cá, nós també
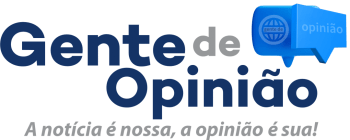 Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)