Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 26 de setembro de 2025 - 14h41

Este
texto tem um formato diferente, com o uso de poucas notas de rodapé e com as
questões sob debate demarcadas como títulos entre uma citação direta e outra.
Na verdade, pela lógica simples, a educação para a autonomia exige a
emancipação. Sob o judice da opressão ninguém é livre, ninguém toma decisão
alguma – como vemos numa aproximação simples ao suposto ao termo:
1. EMANCIPAÇÃO
– retirar o jugo
2. EMANCIPAÇÃO
POLÍTICA – participar de instâncias de decisão
A
lógica, então, nos exige ter na emancipação o ponto de partida, a
essencialidade da ação, pois, sob a opressão, não há formas legítimas de
regulação, normalização (normatização), dominação. Sob a opressão vigora a
prescrição. Neste sentido, a Autoeducação Política para a descompressão nos
exige a proscrição de todas as formas autoritárias, autocráticas, de negação da
emancipação e da autonomia. Em seu livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire
(2021) nos confere, logo pelo índice, 29 lições básicas de quem se aventura
pela educação não-opressiva, ou seja, que seja devotado/a à descompressão das
pessoas. Para efeito didático, vamos listar o índice para em seguida
promovermos um diálogo com o livro, publicado em 1996.
1.
Ensinar exige rigorosidade metódica
2.
Ensinar exige pesquisa
3.
Ensinar exige respeito aos saberes
dos/as educandos/as
4.
Ensinar exige criticidade
5.
Ensinar exige estética e ética
6.
Ensinar exige a corporificação das
palavras pelo exemplo
7.
Ensinar exige risco, aceitação do
novo e rejeição a qualquer forma de discriminação
8.
Ensinar exige reflexão crítica sobre
a prática
9.
Ensinar exige o reconhecimento e a
assunção da identidade cultural
10. Ensinar
não é transferir conhecimento
11. Ensinar
exige consciência do inacabamento
12. Ensinar
exige o reconhecimento de ser condicionado
13. Ensinar
exige respeito à autonomia do ser do/a educando/a
14. Ensinar
exige Bom Senso
15. Ensinar
exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos/as educadores/as
16. Ensinar
exige apreensão da realidade
17. Ensinar
exige alegria e esperança
18. Ensinar
exige a convicção de que a mudança é possível
19. Ensinar
exige curiosidade
20. Ensinar
é uma especificidade humana
21. Ensinar
exige segurança, competência profissional e generosidade
22. Ensinar
exige comprometimento
23. Ensinar
exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo
24. Ensinar
exige liberdade e autoridade
25. Ensinar
exige tomada consciente de decisões
26. Ensinar
exige saber escutar
27. Ensinar
exige reconhecer que a educação é ideológica
28. Ensinar
exige disponibilidade para o diálogo
29. Ensinar
exige querer bem aos/às educandos/as
Não
devemos nos escusar, esquecer, sermos complacentes com a negação dessas ações:
Formação
científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver
e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a
nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusa-lo do que não fez, são
obrigações a cujo cumprimento devemos humildade, mas perseverantemente, nos
dedicar[1].
Lembrando
que neste livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire considera já instituída
(filosoficamente) a lição compromissada no seu Pedagogia do Oprimido (Freire,
2022). Daí, portanto, falar em autonomia, como se a emancipação fosse um “dado
filosófico” reconhecido, aceito, ou ao menos já estivesse compreensível. Esta
é, por assim dizer, a consciência primária que precisamos reter se entendemos
que a educação é um processo de reflexão e de ação (práxis) – como educação
crítica para a práxis, e que, por sua vez, é composta de reflexão e de ação.
O
alerta que se fazia no final do século XX, para as investidas do capital no
próprio discurso da autonomia, mostraram-se proféticos: do individualismo à
dessocialização – em que se fratura até mesmo a consciência primária –, hoje,
sob a batuta das redes antissociais, da total precarização do trabalho
(uberização), o nível da consciência se parece com o “cada um por si, e
salve-se quem puder”. Naturalizou-se a desumanização, como fluxo da
“naturalização da exceção”, sem mais combater, inversamente, as práticas da
desumanização, exploração: o que nos obriga celeremente a uma Educação para
além da exceção. E quando, na verdade, requeria-se emancipação e autonomia para
se fortalecer a interação social: “Para tal, o saber-fazer da autorreflexão
crítica e o saber-ser da sabedoria exercitados, permanentemente, podem nos
ajudar a fazer a necessária leitura crítica das verdadeiras causas da
degradação humana e da razão de ser do discurso fatalista da globalização[2].
A
revolta e a indignação contra a negação da dignidade humana não podem
justificar qualquer forma de sectarismo e de terrorismo.
Daí a
crítica permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de
sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Daí o tom
de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me refiro às
injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo [...] O meu ponto de
vista é o dos “condenados da Terra”, o dos excluídos.[3].
A
Ética condena o materialismo ingênuo, o dogmatismo, a incoerência (Debrun,
2001), o farisaísmo, o sectarismo, a hipocrisia, tanto quanto combate o
cinismo, oportunismo, golpismo.
E
é no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que
se instaura a necessidade da ética e se impõem a responsabilidade.
A
crítica é “natural”, não tem limitação se for honesta (também gentil).
Lembrando-se que não se debate com fascistas, mas sempre sobre o Fascismo.
De
uma coisa qualquer texto necessita: que o leitor ou a leitora a ele se entregue
de forma crítica, crescentemente curiosa[4]
e criativa.
Só
ensina quem aprende, pois, quem forma se reforma.
É preciso
que [...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que,
embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma, ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado [...] Não há docência sem discência
[...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender [...] É
por isso que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo
transitivo relativo. Verbo que pede um objeto direto – alguma coisa – e
um objeto indireto - a alguém [...] Ensinar inexiste sem
aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar[5].
O
“objeto” ensinado leva consigo o sujeito – que aprende, porque apreende.
Neste
caso, é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a
repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente
satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma das
significativas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de
ir mais além de seus condicionantes[6].
Ensinar
exige rigorosidade metódica.
Educadores/as
progressistas precisam estudar, inclusive o que é democracia.
Uma de
suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica
com que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis [...] nas condições de
verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente
sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em que
o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, apreendido
pelos educandos[7].
O
intelectualismo e o papagaio de piratas recitador nada agregam ao sentido do
mundo a ser transformado.
O
intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso
de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de
memória [...] Fala bonito de dialética mas pensa mecanicistamente. Pensa
errado. É como se os livros todos a cuja leitura dedica tempo farto nada
devessem ter com a realidade de seu mundo[8].
Não
se faz Ciência sem afrontar o paradigma – só reprodutivismo.
Ao ser
produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez velho e
de “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã [...] Ensinar, aprender e
pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se
ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a
produção do conhecimento ainda não existente[9].
Ensinar
exige pesquisa.
Se
não há Ciência sem crítica, é óbvio, não pode haver Ciência sem pesquisa. Não
há conhecimento sem pesquisa, não há educação sem pesquisa.
Pesquiso
para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo [...]
Pensar certo, em termos críticos, é uma exigência que os momentos do ciclo
gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente
rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando “curiosidade
epistemológica” [...] Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto
implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação
quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando.
Ensinar
exige respeito aos saberes dos/as educandos/as[10].
Por isso
mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever
de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes
populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária
–, mas, também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos
conteúdos [...] É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da
democracia. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se
deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em
que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a
morte do que com a vida?[11].
Ensinar
exige criticidade.
A
criticidade se desenvolve com a curiosidade e essa é provocadora da
criatividade. Elementos esses que, por sua vez, juntam-se ao método da
Intuição.
A curiosidade como inquietação indagadora, como
inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte
integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que
nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não
fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos[12].
Trata-se
da curiosidade crítica de quem procura o sentido não-legitimado, para muda-lo,
significado espalhado pelo mundo dos tempos pós-modernos do século XXI, mas sem
se ver domesticado pela globalização dos meios tecnológicos que promovem a fuga
do humano (desumanização). Como se dizia antigamente, a curiosidade crítica nos
protege do “fetiche tecnológico” – que não deixa de ser um adiantado “fetiche
da mercadoria”.
Curiosidade
com que podemos nos defender de “irracionalismos” decorrentes do ou produzidos por certo excesso de
“racionalidade” de nosso tempo altamente tecnologizado [...] é consideração de
que, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas, de outro, não a diaboliza[13].
Desse
modo, vê-se que o contrário/antagônico ao positivismo (ou sectarismo) não é o
subjetivismo, é a subjetividade que não cede aos ameaços ou negações provindas
de todas as formas de prescrição (negação ou afirmação da exceção). O contrário
do positivismo que segrega sujeito e objeto – objetificando-se o saber-fazer –
é a proscrição da prescrição na fase em que se alinham o saber-fazer e o
“fazer-se política”. A atenção maior, primordial, neste caso, seria atentarmos
para o fato de que sem emancipação[14]
não há autonomia responsável, integral – e sem isso somos condenados a todas as
formas obscuras de opressão, exclusão, exceção.
Na
metáfora da submersão à emersão, a emancipação subjetiva é aquela que
corresponde à Autoeducação política para a descompressão, enquanto atua o
indivíduo que se reconhece como sujeito da história, ao ser apresentado à
história feita e sendo feita, e ao fazê-la, enquanto faz parte. É interessante
notar que a história, enquanto passado, é presente, uma vez que as condições
reais de existência são dadas, tanto quanto podem ser modificadas.
Portanto,
como sujeito da história – de sua história, tanto quanto lhe é possível ser –,
o sujeito da Autoeducação política para a descompressão é parte e é um agente
atuante da transformação.
É
dessa passagem da imersão à emersão, do senso comum ao Bom Senso (senso
crítico), que o indivíduo – muitas vezes isolado na sua própria negação – vai
gradativamente “tomando para si” a compreensão, o entendimento dos fatos, das
situações, das causas e dos efeitos, e os transformando em conhecimento: vemos
aqui, ainda, a transformação das informações parceladas (até então) do meio, de
si, dos demais, em conhecimento de si e dos outros (da realidade).
É
esse conhecimento que será posto à prova, no realismo político, ao se defrontar
este sujeito com o indivíduo que agora não quer mais ser, bem como diante das
condições objetivas que passam a ser parte da luta que empreende, a fim de se
confrontar a compressão individual, social, política, moral, econômica,
cultural, ambiental (societal), e, nesta mesma luta política, almejar a
emancipação subjetiva e objetiva. Nesta fase, é possível visualizar como o
sujeito transplanta o indivíduo (que fora, e como espelho de muitos que ainda
são), ao passo em que labora e revoluciona o Bom Senso em senso crítico
(aplicado a si, na autocrítica, e na realidade objetiva).
Não
é difícil perceber que essa práxis (reflexão/ação) também comporta dois
movimentos, duas parcelas justapostas, entre a subjetividade e as condições
objetivas.
Quando
se dissociam emancipação e autonomia, autônomo é o Uber e o consumidor dedicado
ao clique do celular, por exemplo. Porém, não são emancipados em nada, um não
tem direito algum, o outro consome por compulsão.
Referências
Debrun, Michel. Gramsci: filosofia, política e
Bom Senso. Campinas/SP, Editora da Unicamp, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2021.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2022.
OLIVEIRA, Edna Castro. Prefácio. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da
Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2021.
[1] Freire, op. cit.,
2021, p. 18.
[2] OLIVEIRA, Edna Castro. Prefácio. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2021, p. 13.
[3] “Educadores e educandos não podemos na verdade, escapar à
rigorosidade ética [...] Em escala internacional começa a aparecer uma
tendência em acertar os reflexos cruciais da ‘nova ordem mundial’ como naturais
e inevitáveis [...] Não podemos nos assumir como sujeitos da procura da
decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não
ser assumindo-nos como sujeitos éticos” (Freire, op. cit., 2021, p. 16-19). Nascia aí, na ordem econômica, a
tendência à “normalização da exceção” – normatizada, por exemplo, na reforma
trabalhista de 2017. Porém, para além disso, atualmente, está em todos os
setores da vida, em especial na Educação financeira que se pratica na escola
pública – para atender crianças e jovens pobres e famintos. A incoerência não
poderia ser maior, se não prevalecesse o único objetivo de adesão fatal ao
rentismo.
[4] Freire, op. cit.,
2021, p. 21.
[5] Freire, op. cit.,
2021, p. 25-27.
[6] Freire, op. cit.,
2021, p. 27.
[7] Ibid., p. 28
[8] Ibid., p. 29-30
[9] Ibid., p. 30 –
grifo nosso.
[10] Por mais que haja sapiência, nada justifica um oráculo na
sala de aula. Todo mundo tem o dever intelectual de aprender (aprender a
aprender), afinal, sem aprender não se apreende (aprender a apreender).
[11] Freire, op. cit.,
2021, p. 31-32 – grifo nosso.
[12] Ibid., p. 33 –
grifo nosso.
[13] Freire, op. cit.,
2021, p. 33-34 – grifo nosso.
[14] Freire, op. cit.,
1985.
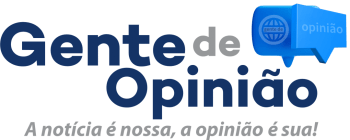 Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)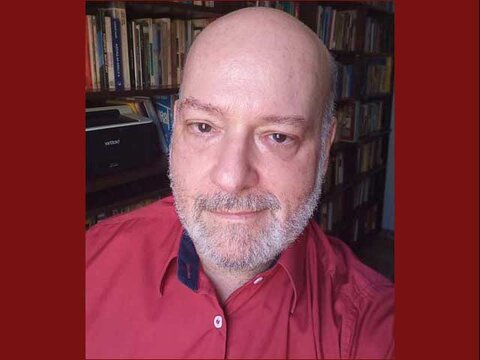
ÉTICA: Ciência, técnica e educação (1)
Podemos avaliar que não estaríamos em desacordo com Morin[1], ao precisarmos a necessidade de uma educação científica (contra o negacionismo[2]), qu
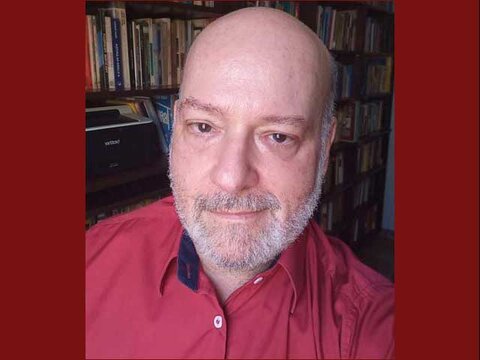
Inicialmente é preciso desatacar que o Bom Senso é acionado pelo adjetivo “bom” e que “tem as qualidades adequadas à sua natureza ou função’: ‘benév

Freire - Autonomia, sem anemia
Para adultos, jovens e crianças- veja se confere- naquilo que te infere(Crianças rimam com esperanças) Freire da revolução- da vontade emancipada-

O oprimido de hoje não pode ser o opressor de amanhã Paulo Freire Ao homem bom, basta a consciênciaJuiz Oliver W. Holmes Jr. Do lado de cá, nós també
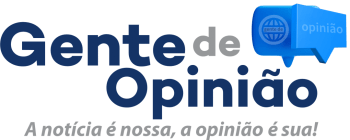 Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sábado, 27 de setembro de 2025 | Porto Velho (RO)