Sábado, 31 de janeiro de 2026 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 27 de maio de 2016 - 17h15
A primeira observação geral é que não há meritocracia sem autonomia.
Mesmo que não seja a meritocracia (dos homens ricos) e nem a autonomia (auto+nonos = dar normas a si mesmo) dos gregos antigos, só há sentido em se falar de mérito no plano efetivo da liberdade e da igualdade.
Sem paridade, equilíbrio entre os agentes envolvidos no processo – e quando há presença atuante de desníveis nas condições ofertadas aos participantes –, o resultado sempre será injusto.
É como se operassem duas regras em um mesmo jogo: uma regra para o vencedor e outra para os derrotados. Portanto, só se configura meritocracia em um plano real (não ideal ou utópico: utopos = não-lugar) se, e somente se, vigorarem regras claras de direito que assegurem e efetivem a isonomia (igualdade diante das normas), a equidade (normas que reequilibrem faticamente os desníveis[1]) e a isegoria: direito de denunciar a injustiça.
A autonomia assim verificada é a garantia de se mover dentro do horizonte de ações possíveis e previamente (de conhecimento global) reconhecidas por todos. No direito justo, implica em que a regra válida teve seus efeitos futuros avaliados pelos implicados e que, conscientemente, deram seu aceite em foro democrático.
No direito justo (vale dizer, na democracia), a soberania é um constructo, endeavour e conatus, uma conexão com a lógica (Hobbes, 1983) e não uma mera invenção ou esquisitice sociológica.
Da decisão soberana, potestas in populo – e que se opõe à decisão monocrática da autocracia: poder de um só em dizer a verdade dos fatos –, decorre a obrigação de fazer. Soberano é o que faz o bem público (Aquino, 1995).
No direito justo, trata-se de uma obrigação de cumprir o direito postulado pela justiça e desse modo garantir possibilidades reais, efetivas, materializadas em oportunidades semelhantes e verossímeis.
Ou seja, ainda que bem diferentes quanto à natureza jurídica, sob o Princípio Democrático (Canotilho, s/d), a soberania é a força do direito justo capaz de efetivar a capacidade individual de se fazer diferente (autonomia), premiando-se os mais justos e competentes (meritocracia).
O contrário disso, em realidades aristocráticas, prosperam a proeminência e a prevalência dos privilégios (privilegiem = leis privadas: o oposto do mérito) e o culto à personalidade: a antítese do sujeito coletivo e promissor no reino do direito justo.
De certo modo, o Iluminismo em seu Século das Luzes (e da razão) advertiu para isso, ao propor a substituição da “última razão dos reis” (força física) pela Razão de Estado.
Porque o iluminismo se projetava como um Estado Legal (no dizer da época), como cultura da justiça popular ou, no mínimo, como poder geral: o Espírito Absoluto (Poder Político) que não tomaria partido em suas ações e decisões (Hegel, 1997).
No final, vimos que prevaleceu a concepção kantiana de que “o direito é a coerção” (Kant, 2003) a serviço do soberano. E o soberano não era, mesmo na idealidade, o sujeito coletivo que promulgava e zelava pela efetividade do direito justo.
Rousseau (1987) formulou o direito justo, em vários momentos de sua produção, mas Habermas (2003) – sistêmico (Weber, 1979) e positivista (Durkheim, 1999) – desprezou o poder da Razão de Estado na feitura do direito.
Por isso, há um substrato na hermenêutica jurídica do realismo político (Schmitt, 2006) que permite ao Estado encerrar o direito no poder e na coerção que obriga o povo ao seu cumprimento. Não é à toa que, no século XXI, trocamos expressões consagradas como consciência crítica e militância por resiliência e colaboração.
Podemos ver esse desvio imposto ao direito justo – ou complacência com o poder do soberano (majestas) – na decisão, por medida provisória, que praticamente enterra a Lei de Licitações para contratar com o Poder Público[2].
No plano científico, a mesma lógica socorre à demonstração de poder meritocrático (que, no fundo, é aristocrático): o doutor é o cidadão da universidade. Posto que, o doutor detém um conhecimento acumulado (avaliado por seus pares) que lhe permite acessar – como chave mestra – o universo do conhecimento.
Como resultado prático na avaliação final de um curso de Pós-Graduação strito sensu, a seguir essa lógica, os doutorandos mereceriam nota A; os mestrandos, nota B; os alunos especiais, nota C.
Os alunos não-regulares, nem especiais, por seu turno, nem nota teriam. Isso estaria correto? Não.
Ou seja, pela mesma razão de direito (justo), não se pode equiparar ou exigir do sem-terra, sem-teto ou oriundo da escola pública, o mesmo rendimento de quem herdou dos seus pais doutores ou totalmente escolarizados a cultura como capital.
Para o direito justo, enfim, deve-se socorrer do discrímen político-jurídico; como forma de discriminação positiva que (re)equilibre o desnível imposto pelo direito da coerção. Na conclusão geral, implica que a classe trabalhadora precisa de proteção contundente contra o capital que se arvora de predador absolutista do social (Marx, 1978).
Bibliografia
AQUINO, Santo Tomás de. Escritos Políticos. Petrópolis-RJ : Vozes, 1995.
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo : Martins Fontes, 2001.
CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Lisboa: Almedina, [s.d.]
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 2ª ed. São Paulo : Martins Fontes, 1999.
HABERMAS, Jürgen. O Estado Democrático de Direito. IN : Era das Transições. Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 2003.
HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
HOBBES, Thomas. Leviatã. Col. Os Pensadores. 3ª ed. São Paulo : Abril Cultural, 1983.
KANT, I. A Metafísica dos Costumes: a doutrina do direito e a doutrina da virtude. Bauru, SP : EDIPRO, 2003.
MARX, Karl. O 18 Brumário e cartas a Kugelmann. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: ensaios sobre a origem das línguas. 4ª ed. Col. Os Pensadores. Vol. I. São Paulo : Nova Cultural, 1987.
SCHMITT, Carl. Teologia Política. Belo Horizonte : Del Rey, 2006.
WEBER, MAX. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro : Zahar Editores, 1979.
Vinício Carrilho Martinez (Dr.)
Professor Ajunto IV da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar/CECH
[1]“Trata os iguais, igualmente; os desiguais, desigualmente”. Desde os tempos de Aristóteles (2001).
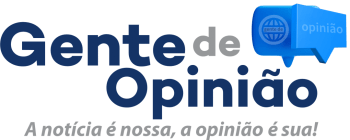 Sábado, 31 de janeiro de 2026 | Porto Velho (RO)
Sábado, 31 de janeiro de 2026 | Porto Velho (RO)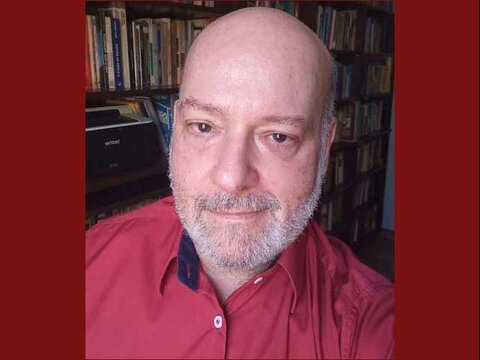
Consciência social e de classe
O título trata, sem dúvida, da consciência de classe. E, no caso brasileiro, é uma consciência que deve olhar para baixo e para dentro, an
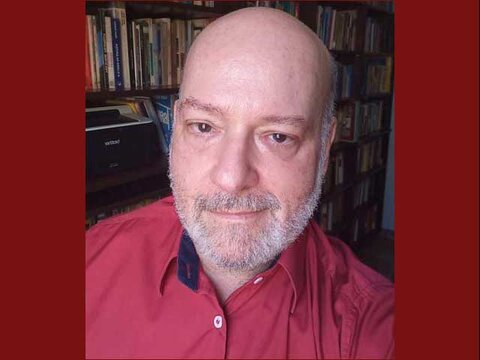
Eu tenho deficiência física, na perna esquerda, e estou nesse imenso rol que chamam de PCD – pessoa com deficiência. É mais um apelido. E c
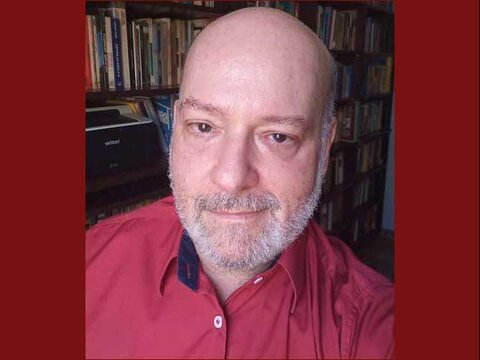
Em meios inóspitos, excludentes, violentos, transgressores da dignidade humana, é preciso transgredir. É preciso transgredir o status quo liderado
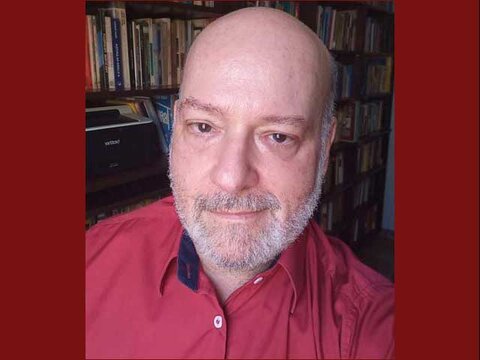
O que transita é o que já está em movimento, é o que transita entre aqui, ali e acolá. O que leva a pensar na acessibilidade como uma via, u
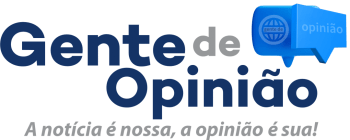 Sábado, 31 de janeiro de 2026 | Porto Velho (RO)
Sábado, 31 de janeiro de 2026 | Porto Velho (RO)