Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 | Porto Velho (RO)
Quarta-feira, 30 de julho de 2025 - 14h37

EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA EXCEÇÃO
(Vinício Carrilho
Martinez – 30/07/2025)
(https://www.youtube.com/live/LTTzeX_TfWw)
Dedico esse momento, esse trabalho que vem concluindo minha paixão pela academia, ao meu irmão, Wagner, por sempre ter sido meu maior amigo. Onde estiver, tem meu coração.
Filho de Ogum, filho de Saturnino e Dalva, não poderia faltar energia e perseverança. Aos meus pais, onde estiverem.
À Fátima, do amor que vai e volta, e que sempre fica.
E que este trabalho seja claro como um espanhol, firme no calor do meio dia, com veredas e enlaces, mas sem que reste uma única sombra de dúvidas do que almejei.
Dedico esse texto final a todas e todos que fizeram e fazem parte do meu crescimento nas certezas aqui defendidas.
Boa tarde a nós aqui presentes. Que
sejam momentos de grande aproveitamento e aprendizagem. Aliás, devo dizer que
minha ansiedade, anterior a este momento, é ainda mais respeitosa pela pronta
aceitação de vocês para uma melhor apreciação deste trabalho a ser agora
avaliado.
Neste
breve início gostaria de ressaltar a grandeza que emprestam à minha sessão
pública de defesa do concurso para a titularidade. O conhecimento que vocês
sempre propuseram, podem apostar, está contido nesta tese.
Assim, agradeço, nominalmente, aos professores:
●
José Carlos Rothen (presidente
da banca)
●
Ingo Wolfgang Sarlet
●
Marco Antonio Domingues Teixeira
●
Abili Lázaro Castro de Lima
● Sebastião Pinto
Lembrando que esta tese é em Educação, e não propriamente
em Direito, minha tarefa é apresentar e resumir a tese proposta, de uma
plausível Educação para além da exceção – como contribuição à melhor edificação
da dignidade humana, em garantia e aprofundamento da consagração dos direitos
humanos fundamentais, com destaque ao direito à Educação, e em conformidade aos
melhores e maiores ideários que provém da emancipação humana. Que assim seja...
No entanto, podemos dizer que 2025 tem sido um
dos anos de maior desafio para a superação ou, ao menos, oposição aos fatos,
efeitos e consequências do que denominamos de exceção ou “normalização da
exceção” – na prática, equivale a dizer que a exceção se consubstancia como
regra, na base conceitual, cultural, epistemológica do senso comum.
Os conflitos ressaltados na tese ainda se
manifestam ou até mesmo se agudizaram: a aceitação com normalidade da exceção
se vê quase como senso comum – no pior sentido, sem que se destaque nenhum Bom
Senso.
Nesse contexto, a tese objetiva
apontar elementos de uma Educação para além da exceção e, neste sentido,
destaca-se uma Educação anticapitalista (antirracista), em que não se promova o
sionismo de Estado e muito menos o antissemitismo, bem como se avolume uma
educação democrática, apontada para a autonomia e a emancipação, pois, afinal,
trata-se de uma Luta pelo direito –
especialmente se observarmos a Constituição Federal de 1988 e os equipamentos
trazidos como aprofundamento do discrímen
(aqui, apresentado como sinônimo de “excepcionalidade” e, portanto, antítese da
exceção) – porque, como sabemos, toda luta política ocorre em meio à luta de
classes.
Portanto, a antítese desta tese tanto é a sociedade envolta em mecanismos de exceção e de exclusão, tanto quanto será o discrímen – uma vez que, sempre que este for acionado, será em resposta a alguma injustiça, iniquidade, abuso de poder ou desídia. É certo que o discrímen combate resultados da exceção, mas seu uso nos indica que a exceção (a exclusão da injustiça social) se prefigurou como regra e, assim, embora seja o equipamento político-jurídico disponível (como políticas públicas ou Políticas de Estado), seu acionamento já nos esclarece sobre a ação da desigualdade e a negação da equidade. Com este objetivo maior foi que organizamos a tese em oito capítulos – os apêndices ou reforçam o argumento ou atualizam um ou outro aspecto. Os capítulos são os seguintes:
1. Capítulo 1 -
Educação Para Além do Capital
2. Capítulo 2 -
Sociologia Política da Educação
3. Capítulo 3 -
Consciência é a Consciência da Consciência Política
4. Capítulo 4 -
Educação Para Além da Exceção - Técnicas de Estado (exceptio e dominus)
5. Capítulo 5 -
Mutações Estatais e Sistêmicas
6. Capítulo 6 - A
Excepcionalidade como Normalidade. Do Homo
Sacer ao Homem Médio
7. Capítulo 7 -
Estado de Exceção no Século XXI
8. Capítulo 8 - O Que Fazer
No quadro geral, podemos inferir que,
conceitualmente, o objeto da Educação para além da exceção é a “normalização da
exceção” – sendo que esta se define pela interiorização e aceitação acrítica
das formas mais sutis ou mais agressivas dos meios e mecanismos de exceção –
exclusão. Basicamente, utilizamos a dedução e a intuição, no que entendemos ser
a revisitação ao objeto, às produções anteriores, mas com avaliação crítica e
liberdade criativa a fim de reposicionarmos alguns dos principais elementos no
atual contexto de 2025. Dessa forma, a fim de visualizarmos em maior
profundidade este objeto, confeccionamos enlaces entre os capítulos anunciados,
como veremos.
No capítulo um recuperamos um clássico contemporâneo, que é a Educação para além do
capital, de Mészáros. Não se trata, evidentemente, de apontar toda a crítica ao
capital – nem é nosso propósito na tese – mas, sim, trazer ao debate pelo menos
um ponto que julgamos essencial: entender que a injustiça social, a
desigualdade, a opressão de classe, são a matriz da regra capitalista e não sua
exceção. Daí o emprego do discrímen,
não como solução, porém, enquanto remédio jurídico e social.
A “Lei do mais forte” imposta no mundo do
trabalho, com estofo no Princípio da Hierarquia, não é um princípio do
coronelismo, insumo do assédio laboral ou qualquer desvio moral, porquanto traz
como disciplina os regulamentos da produção capitalista: mesmo a melhor empresa
do mundo para se trabalhar, a mais organizada, sem desvios de conduta, ainda
terá a vigência da “Lei do mais forte” – qual seja, a exploração da força de
trabalho, a obtenção de mais-valia – seja por meio do trabalho vivo
(intelectual), seja na exploração do trabalho morto (aportado nos serviços,
produtos e mercadorias).
Dessa forma, a “Lei do mais forte” não é, em si,
uma exceção capitalista – é o seu cerne. O que implica em dizer que, a fim de
se manter enquanto regra mandante do capital, a “Lei do mais forte” faz uso
recorrente de meios e mecanismos de exceção, como vemos na imposição de leis
injustas, nos golpes efetivados, na imposição de excrescências políticas,
econômicas, jurídicas, na “naturalização do negacionismo” ou da abstenção
complacente diante do próprio cenário de injustiça que se alimenta da principal
regra capitalista. O direito à propriedade é a regra de um direito formal na
sociedade capitalista, mas seu uso e gozo, efetivamente, são a exceção para os
descapitalizados.
Assim, vemos que o capital se impõe por meio de
uma regra, todavia, faz isso – faticamente – por meio de uma ação excludente a
todos os indivíduos que são alijados do mesmo direito de ter e de possuir. E
assim temos que a regra do capital é o melhor exemplo da principal
condicionante da exceção – que é a exclusão. Portanto, ainda que
conceitualmente, a Educação anticapitalista se impõe porque atuaria no combate
ao miolo da exceção: a exclusão dos descapitalizados, sob a vigência da ordem
excludente da sociedade capitalista.
Isto justificaria, conceitualmente, o primeiro capítulo, com o prisma de um objetivo mais amplo – e que é a Educação para além da exceção (vale dizer, para além da exclusão social, funcional, econômica, política, institucional). Posto que, na prática, a “Lei do mais forte” (do princípio que hierarquiza o capital) é afirmada como regra, enquanto tipifica a exclusão social, econômica, política, institucional e assim se institui na forma de exceção para os despossuídos, expropriados, explorados, porque não a alcançam em usufruto.
No capítulo dois, ainda que sob um grande
desafio ou otimismo exagerado em pensarmos na proposição de uma Sociologia
política da educação, listamos correlações que essa proposta mantém com o
objeto da pesquisa exposto na tese (o combate à “normalização da exceção”), e o
seu entranhamento no senso comum, impedindo qualquer desenlace que viesse a se
posicionar mais no caminho do Bom Senso – ou do senso crítico, como baluarte da
perspectiva de transformação e mudança da realidade que nos infere o seguimento
da regra de exceção, afirmando-se em exclusão.
Luta-se aqui, mais precisamente, a fim de que a
prescrição social, institucional, das injustiças, desigualdades, iniquidades,
seja ela mesma proscrita, banida, da realidade social brasileira. Se a regra
imposta pela “Lei do mais forte” é a prescrição de que a imensa maioria seja
alijada, excluída, das possibilidades de afirmação na sociedade capitalista,
cabe a quem milita como profissional da educação não apenas seu anúncio ou
denúncia; contudo, traz isso a obrigação de se posicionar de forma consciente.
Ou seja, sob esse olhar, a Educação para além da exceção deve ser propositiva e
conjugar uma outra tese emancipadora que venha a fortalecer a antítese do status quo – este que se pronuncia pela
“Lei do mais forte”.
Para nós, toda tese em direitos humanos é uma
antítese, mormente se observarmos a realidade negadora dos mesmos direitos
humanos fundamentais. Também não é o objetivo deste trabalho, entretanto, não
seria exagero afirmar que os capítulos dois, três e quatro se alinham ao que
denominamos de Direito à consciência, na linhagem de direito fundamental em que
se acoplam a cultura, a educação, o Processo Civilizatório (tal como está
presente no artigo 215 da Constituição Federal de 1988). E, é claro, atuaria
como marco de um conjunto de civilidade, inclusão, participação com vistas à
emancipação da cidadã e do cidadão.
O que nos cabe no propósito de uma Educação para
além da exceção – que combata o racismo recalcitrante, normalizado, espraiado,
bem como toda forma de crime contra as mulheres, a homofobia – é pensar numa
articulação societal (sistêmica: política, institucional, educacional,
cultural, social, econômica) reflexiva e ativa (como práxis), dirigida como
“proscrição da prescrição” que avilte a dignidade humana, os princípios
humanistas, os direitos fundamentais.
A consciência sobre nós, cada um de si, de seu entorno, sobre o que está mais longe, mas que nos alcança, é um fundamento não só da vida social (Interação Social), uma vez que condiciona nossas próprias condições de existência, de ação, requisição de mais condições de vida, expectativas, propósitos, progressões, prosperidade. É dessa consciência acerca da dignidade humana não adstrita aos limites unitários que também trata a consciência ambiental, e ter ou não essa perspectiva é indicativo da consciência política.
No capítulo três recuperamos uma assertiva
inaugural de Paulo Freire, que é a obrigatoriedade da “consciência (política)
que sabe da urgência em ser consciente de sua própria consciência” sob pena de
se instituir, aprimorar ou prolongar o negacionismo ou o sectarismo: ele
próprio foi vítima após a publicação de Pedagogia do Oprimido. Essa matriz
conceitual é genuinamente de Paulo Freire, com fundamento filosófico.
De nossa parte, procuramos acrescentar
contribuições de Gramsci, especialmente as de cunho sociológico. É neste curso,
neste momento em especial, que não se separa conhecimento e política (não
resumida ao partidarismo, porém, claramente direcionada ao zoom politikón), em que novamente se apresenta a inevitável junção
entre o “saber-fazer” e o “fazer-se política”, pois isso é revelador da
condição humana, emancipadora.
Há autonomia sem emancipação (de quem troca de
celular como se troca de roupa), contudo, a emancipação cobra um preço muito
maior de cada um de nós: apesar do juiz poder antecipá-la, a emancipação será
uma condicionante coletiva, como esforço propriamente hercúleo que exige o
preço da “proscrição da prescrição” (a delimitação social sem emancipação) – e
quem não tem autonomia econômica, por óbvio, não encontra as melhores diretrizes
para fixar os campos possíveis de sua emancipação.
Isso também é Educação política e nos inclina a observar muito atentamente, seriamente, a condição do povo pobre, negro, oprimido, dos idosos, das mulheres, dos jovens em busca de qualificação a fim de entrarem no mundo do trabalho. E está aqui também a possibilidade/necessidade de realinharmos a “expectativa do direito”, o conhecimento, a técnica, a ética, a política, a socialidade, o mundo do trabalho.
No capítulo quatro trouxemos o que poderia ser
considerado o miolo da tese e a retomada ou fixação de seu objeto, que é
precisamente a Educação para além da exceção, especialmente no sentido de que
uma das principais tarefas dos profissionais da educação estaria no enlace
entre a denúncia (a antítese trazida pela exceção) e a proposição crítica – ou,
em outras palavras, entre a reflexão e a ação: a práxis transformadora do senso
comum em senso crítico.
Trata-se de repor a Educação para além da
exceção porquanto não é só denúncia, entretanto, conscientemente, como ainda se
propõe uma ação diretiva em contraste e em confronto às formas de sujeição,
subjugação, subordinação na miserabilidade. Trata-se de recompor a Educação
para além da exceção na forma de reflexão e ação passível de transformação e de
afirmação de regras propriamente garantidoras da condição humana, afirmativas
de nossa capacidade ética e técnica e que até hoje nos garantiram perpassar
pelo processo de hominização.
Isso está em jogo não apenas em face de uma
inteligência artificial descontrolada, sem formulação ética e humana, afinal,
se prosperam ideologias extremistas, sectárias, propriamente fascistas (em
lembrança aos piores momentos da Segunda Guerra Mundial), profundamente
desumanas, e com crescente apoio popular – as democracias diminuem
assustadoramente, ao passo que regimes autoritários e totalitários aumentam –,
nos parece ser uma obrigação humana interpor uma reflexão que nos leve para
além da “normalização da exceção”.
É óbvio que, sendo antirracista, por derivação lógica, deverá ser uma reflexão distante do sionismo de Estado, tanto quanto deve denunciar e agir contra o antissemitismo.
No capítulo cinco temos uma clara interposição
do primeiro capítulo, pois o Estado rentista com suas contradições, notadamente
com o aprofundamento da insegurança jurídica no mundo trabalho – pejotização,
uberização, terceirização –, pondo-se com
quase pretensão de regularidade e normalização, efetivamente essa forma-Estado
atua para a “normalização da exceção”, que, lembrando aqui, nada mais é do que
tornar parte integrante do senso comum a transformação da exceção em regra.
Este é um dos mais complexos capítulos da tese,
efetivamente porque procuramos diagnosticar o rentismo na soleira da
democracia, bem como uma revisitação de alguns traços de Marx, sobretudo ao
criticar o Estado Moderno do século XIX. Algo de lá para cá pode/deve ser
visto, mas há muito que ser revisto – afinal, os tempos passaram até mesmo para
o conceito. E nossa obrigação ao propormos a construção do conhecimento é
observar minimamente este andamento.
O Estado em rede não é a tese, no entanto, a
ideia de rede também alinhou nosso método de aproximar a intuição do objeto
móvel da exceção em suas aparições neste século XXI. Não apenas as tarifas
destravadas pelos EUA misturaram, trouxeram confusões gigantescas no cenário
internacional – com abalos, talvez, irreversíveis ao chamado Capitalismo
Globalizado – como, no Brasil (um meio de atacarem o BRICs), a soberania
nacional pôs-se à prova.
Dentro e fora do país, como ricocheteio do 8 de
janeiro de 2023, as ameaças à soberania são graves, em afronta ao povo, ao
país, à Nação (o Estado-Nação, clássico na Teoria Geral do Estado), à
Constituição Federal de 1988.
Se vivemos entre passado e presente, com a
sobeja imposição do que apelidamos de Pensamento escravista (racismo + trabalho
análogo à escravidão), agora o futuro outra vez bate à porta – e nos cabe
perguntar: será um futuro sem soberania, de afronta às instituições, aos
poderes constituídos, à democracia, à República nacional, ao Estado de Direito?
Afinal, estão em jogo a própria divisão e
segurança dos poderes, os direitos fundamentais, o Império da Lei
Constitucional. Portanto, mediante a infeliz adesão popular a todas essas
formas de desconstituição de regularidade, previsibilidade, normalidade de
nossas instituições democráticas e republicanas, sempre, nos parece, será bem
posta uma Educação para além da exceção.
Temos que conviver entre passado e futuro
(prometido, mas não garantido), num canto do imaginário em que a norma
democrática é uma excepcionalidade, e, na outra ponta, ocorre uma luta política
pelos direitos fundamentais que teimam em não se fixarem como regra. Temos
garantias constitucionais à democracia (no Código Penal também), entretanto, a
cultura política ainda nos exige muito mais, pois, entre o rentismo e a
democracia, ainda vigora o salve-se quem puder. Predomina o chamado Capitalismo
de dados: substituindo-se o famoso acrônimo de Marx – a regra D/M/D’ foi
inerente ao industrialismo – por um simples enriquecimento sem produção: hoje
resumindo-se em D/D’, dinheiro que gera dinheiro, mas sem nenhuma produção.
Entretanto, mudar a consciência acerca dessa submissão às exceções também é parte de nossa proposição.
No capítulo seis, a mixagem entre o Homem
médio em sua vida comum e aquela figura jurídica romana desconstituinte de
qualquer possibilidade de dignidade humana – que era o Homo sacer –, nos coloca a realidade deste século XXI, uma vez que
o “servo voluntário” (todos nós que alimentamos as redes sociais ou, mais
precisamente, redes antissociais) é o mote, a válvula de regulagem e vantagem do capitalismo de dados, tanto quanto é a
linha mestra do rentismo improdutivo.
Vemos, a partir deste exemplo (e que, se pode
dizer, nos acompanha pelo celular) que a exceção não se reduz ao aparelhamento
estatal, uma vez que encontra resultados em todas as dimensões da vida moderna.
A diferença é a percepção que temos (ou não) do quanto somos subjugados pela
tecnologia seletiva e excludente interposta no dia a dia.
Nós aqui, certamente, temos a clareza total
acerca da “consciência que é a consciência da consciência”, mas, quantos de
nossos alunos e alunas têm esta vantagem intelectual como premissa? Nosso
esforço, na tese, também se inclina a esta forma de divulgação, popularização
de mecanismos (poucas vezes) sutis em que se mantém e retroalimenta a
“naturalização da exceção”.
Trazer ou levar este formato de consciência
política (por definição) é já se colocar em favor de uma Educação política e,
com isto, fazer avançar as excepcionalidades (o avesso das exceções). Mas,
agora, como regra e não aquela excepcionalidade (discrímen) que se aciona apenas em casos graves de exclusão ou de
violação dos direitos fundamentais.
No capítulo sete temos a figura político-jurídica, institucional do próprio Estado de exceção – que não é o objeto desta tese, por mais que tenha sido no passado –, alçado aqui em destaque como capítulo porque se tornou praticamente uma “moda política pós-moderna” e, com isto, queremos dizer que a moda virou modelagem política e institucional, sem distinção de fronteiras ou de soberanias.
Aliás, o nosso citado exemplo do 8 de janeiro de
2023 é uma recordação em curso de julgamento final no Supremo Tribunal Federal
(STF).
Como anunciamos desde o início desta
apresentação, o apego praticamente irresistível à exceção, a interior e extrema
normalização, que nos conduz a uma verdadeira moda política pós-moderna
impositiva de regimes de exceção, avança em todos os quadrantes do planeta: da
Argentina a El Salvador, do Equador à Israel e à Síria (ou Afeganistão). Isto
é, o Estado de Exceção nunca foi tão atual. Todavia, ao contrário do que
professou Agamben, acusando o blackout da pandemia de 2018, o Estado de exceção
é um vigor político, e não se reduz
por óbvio a qualquer teoria da conspiração.
A realidade está aí, e a própria participação
política não está na fase de melhor encantamento popular. Em ironia, ou não, o
“desencantamento do mundo” (de Weber) parece ter-se virado contra seu objetivo:
o desencantamento do mundo não trouxe racionalidade, as adorações a mitos,
religiosidades negacionistas, seitas, crescem na velocidade das redes
antissociais, tanto quanto a dominação racional-legal chegou aos estertores da
“normalização da exceção”. A dominação legal deveria ter-se afirmado como
dominação racional-democrática, no entanto, se vê envolta por formas avançadas
de algum tipo de dominus: o looping da exceção é uma clara
demonstração desse uso continuado do dominus,
em oposição à própria racionalidade democrática.
As mutações das previsibilidades dos séculos XIX e XX trouxeram um implacável recrudescimento da forma política do Estado de exceção, que só progride, logicamente, em razão da “normalização da exceção”. Basta-nos olhar quantos países na África estão enfurnados em golpes, contragolpes, quarteladas, Estados de Sítio e outras formas de exceção. Com este recorte passaremos ao último capítulo do trabalho.
No capítulo oito tivemos a intenção de nos
reposicionar não apenas quanto ao objeto, mas, sobretudo, com dizeres que nos
remetessem ao “que fazer”, à possível Utopia que poderia/deveria guiar a
prática política e educativa – a práxis que deveria nos fazer pensar,
continuamente, conscientemente, na junção entre o homo faber e o homo sapiens
– esse contínuo saber-fazer que, por seu turno, irremediavelmente nos obriga a
repensar a lógica impositiva de Paulo Freire, quando nos ensina que
“consciência é a consciência da consciência”.
Neste propósito final recuperamos a Educação pública,
seja sob a forma do Direito a ter direitos seja enquanto luta política pela
salvaguarda e avanço do direito à educação – sob a fórmula da qualidade,
inclusão e, explicitamente, emancipação. Como vimos, enquanto não apontamos
para a emancipação, nada de fato será constituído em prol de uma Educação para
além da exceção.
E este último capítulo tem isso como principal
objetivo, trazer uma reflexão em torno da segurança, garantia, fruição,
expansão, da educação que nos enleve para além dos horizontes massacrantes do
cotidiano (do Homem médio em sua vida comum) e nos faça melhores anunciadores e
comunicadores de uma Utopia possível: aquela que refaça a união entre técnica e
ética, conhecimento e política, em que não prosperem apenas as injustiças, mas sim
a isonomia e a equidade.
Ao final das contas, esse conjunto de
perspectivas, proposições, reflexões e ações, havidas desde (ao menos) o
mestrado em educação concluído em 1996 (na UNESP/Marília), tem sido nosso guia
na vida pessoal e pública, no trabalho e na produção acadêmica.
Os trabalhos acadêmicos e também de
popularização do conhecimento científico (das Ciências Sociais), anteriores a
este momento de defesa pública do concurso de titularidade, foram eivados da
mesma intenção: acusar o Estado de exceção e sua “normalização da exceção” nos
escaninhos do poder ou no cotidiano da cidadania comum, sempre mitigada pelo
anúncio do retorno do Homo sacer:
aquele, aquela, a quem a emancipação é sempre negada, posto que a regressão da
“normalização da exceção”, a par dos mais eloquentes momentos históricos, ainda
é uma promessa.
Por fim, cabe-me destacar que a Educação para
além da exceção tem este propósito maior: tornar eloquente também a luta contra
as formas de exceção que aviltam sobremaneira o ideário da emancipação.
E se ainda pudesse destacar um resumo do resumo,
como conclusão conceitual, diria que:
É fato que a consciência é a consciência da
consciência, porém, só será um vetor de hominização quando, na forma plena de
consciência política, conduzir à proscrição de toda forma de prescrição
desumanizadora. Esse é o maior objetivo de uma Educação para além da exceção,
atuar em virtude de uma reflexão aprimorada de todos os meios inclusivos e
emancipatórios, ao mesmo tempo em que esses meios, recursos, também sejam
dissolutivos da negação da dignidade humana.
Mais uma vez gostaria de agradecer, com o
convencimento da gratidão, a pronta aceitação ao convite para participarem
desta banca, neste que é o momento derradeiro na construção de minha vida
acadêmica.
Espero que descontem os erros, unicamente
atribuídos a mim, porque, apesar de inúmeras leituras e revisões até
profissionais, os erros pessoais nos acompanham. Contudo, gostaria de frisar
que o empenho foi o maior possível, fomos até onde nosso alcance e energia
permitiram.
Por derradeiro, como última métrica, da prosa à
poesia, concluiria assim, com uma previsão pessoal:
PREVISÃO
Nem sempre somos previstos
- mas que não sejamos proscritos,
(da licença de almejar, educar e amar)
Que não sejamos prescritos,
- sem direitos, sem educar para almejar
Se nossa ciência é convicção
- que assim seja, com a consciência por mediação
- como intuição humana
- sem formas desumanas
Não somos frascos, lampejos
- não somos fracos,
- aqui não há recipiente
(esse meu lampejo, eu almejo)
Consciente em andar, construir
- um edifício há que se erguer
- só temos que prever
Quando me emancipo
- sem exceção,
- minha excepcionalidade quero afirmar
(ao me emancipar)
Não somos frascos, recipientes, fracos
- somos como nossa gente
- com a força que nunca é ausente
Esses são os nossos traços
- eficientes
- conscientes
Da luta viemos,
- à luta iremos
Isso é fundamento
- são direitos
(em andamento)
Não somos fracos
- somos gente
Espero ter contribuído com esta tese em
Educação, pois, mesmo que empregasse elementos da Teoria Política, do Direito,
da nossa Constituição Federal de 1988, da Sociologia e da Filosofia, ainda
assim se propôs enquanto uma tese em Educação – mais especificamente, uma
Educação para além da exceção.
Mais uma vez muito obrigado.
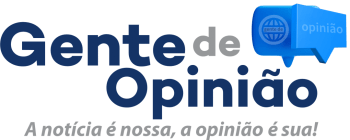 Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 | Porto Velho (RO)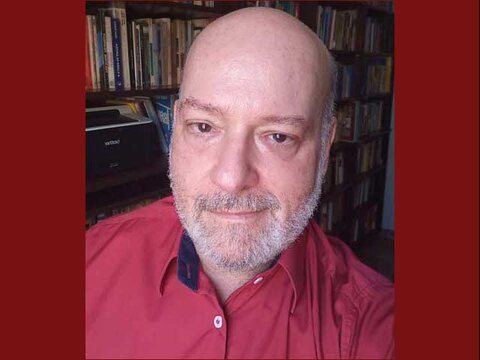
Necropolítica e luta de classes no Rio de Janeiro - O fim do Estado
A chacina ou o massacre – como se queira chamar – levados a cabo pelas forças policiais do Rio de Janeiro, a mando do Governador do Estado, no dia 28

Educação e Sociedade: Sociologia Política da Educação
O leitor terá a seguir apresentação do mais recente livro de Vinício Carrilho Martinez, professor titular da Universidade Federal de São Carlos. Ace

Ela pensa? - a inteligência desumana
Tanto fizemos e desfizemos que, afinal de contas, e ainda estamos no início do século XXI, conseguimos produzir uma inteligência desumana, absolutam

Pensamento Escravista no Brasil atual
Esse texto foi pensado como contribuição pessoal ao Fórum Rondoniense de Direitos Humanos – FORO DH, na fala dirigida por mim na mesa Enfr
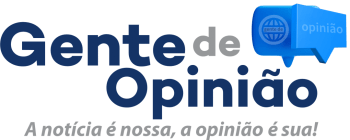 Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 | Porto Velho (RO)