Sexta-feira, 6 de março de 2026 | Porto Velho (RO)
Quinta-feira, 22 de abril de 2010 - 08h57
Luiz Carlos Azenha - VI O MUNDO
Desde criança ouço previsões sobre a iminente extinção dos jornais impressos. Depois que surgiu a internet, então, essa crença se espalhou feito praga.
Qual será o sentido de um leitor receber em casa – ou comprar na banca – um calhamaço de papel, se pode ter acesso às mesmas informações na tela de um computador?
Este ano completo 26 anos como repórter de televisão. Tenho fascínio pelo desafio de juntar imagens e sons e contar uma história de forma enxuta, condensada – às vezes capaz até de despertar emoções no telespectador. Mas não há um dia em que eu não volte para casa carregado de cacos, sobras, detalhes que não couberam na reportagem – a sensação é de ter entregue um cobertor curto ao telespectador.
Descobri, ao longo da carreira, que alguns casos são tão cheios de nuances, sombras e sutilezas que não cabem na televisão. Até parece que eles só tomam forma num espaço como este, em que os olhos do leitor podem passear pelo texto, ler e reler, preguiçosamente convidar o cérebro à reflexão.
Eu não teria como contar, na tevê, a história de um brasileiro que conheci em Nova York, nos anos 80. Personagem que desafiava os rótulos convencionais: tinha muitos amigos, era boa praça, uma referência da comunidade brasileira – mas envolvido com a compra, venda e uso de drogas.
As pistas foram surgindo aos poucos – a verdade, mesmo, recebi em forma de tijolada. Foi esse brasileiro quem me ajudou a fazer a primeira mudança de casa nos Estados Unidos. Ele tinha um carro espaçoso e se ofereceu para transportar alguns móveis. Veio dele a dica para um negócio de ocasião: um conhecido, de mudança para a Flórida, estava vendendo um colchão quase novo.
Fomos ver, mas demos de cara com uma cena bizarra. A mulher nos recebeu na sala, mas o marido se recusava a sair do banheiro. Lá de dentro, gritou as condições do negócio. Fiquei perplexo. A brasileira, disfarçando, nos chamou de lado. Pediu desculpas pela situação. Estava tão desesperada que resolveu desabafar.
Fiquei ali, só ouvindo, de testemunha. Contou que o marido tinha se tornado prisioneiro do crack. Entre uma dose e outra, tinha surtos de paranóia e se trancava. Delirava, crente de que era espionado pela polícia. Saí da casa sem o colchão, abalado e curioso. O brasileiro que me levou até lá saiu calado, me deixou em casa e nunca mais tocou no assunto.
Que diabo era aquele tal de crack, eu me perguntava? Resolvi fazer uma reportagem para a TV Manchete. Descobri que o crack era a cocaína dos pobres. O pó branco, de uso farto entre as celebridades da época, agora era vendido em forma de pedra, para ser fumado, por uma fração do preço. Tão poderoso que era capaz de destruir uma pessoa em algumas semanas de uso.
Eu e a equipe da TV Manchete tentamos, sem êxito, entrevistar alguém que tivesse experimentado a droga. Por motivos óbvios, ninguém topava gravar – nem com o rosto escondido e a voz distorcida. Meu conhecido – aquele, que havia ajudado com a mudança – se ofereceu para colaborar. Apareceu na sede da emissora com o contato de um brasileiro, que cumpria pena por tráfico de drogas.
Os presos em cadeias americanas tem direito a fazer algumas chamadas telefônicas por dia. Um familiar do preso passaria a ele o número do telefone da TV Manchete em Nova York. Dias depois, o preso brasileiro ligou. Fiquei alvoroçado. Ele topou contar tudo, desde que eu preservasse a identidade dele.
Falou sobre o surgimento do crack, as rotas do tráfico de cocaína, o envolvimento com as drogas e a prisão.
Jamais vou me esquecer de uma cena que o preso brasileiro narrou. Peixe pequeno na estrutura da quadrilha, tinha a função de transportar dinheiro dos pontos de venda até um apartamento da Trump Tower, um luxuoso prédio da Quinta Avenida. Dinheiro miúdo – notas de um, dez, vinte dólares, carregadas em maletas e sacolas.
O dólar na cueca ainda não havia sido inventado. O preso contou que fez a entrega do dinheiro e ficou esperando pelo pagamento, na sala. Disse ter visto, de rabo de olho, uma cena de filme: um cômodo estava abarrotado de dólares, maços de notas empilhados contra a parede. Viu um conhecido usando uma máquina de contar dinheiro. Encerrada a ligação, me dei conta de que tinha informações extraordinárias, obtidas de uma testemunha de primeira mão.
Mas não tinha como usá-las na televisão. E as imagens?
E o depoimento do preso, que não concordara nem com a gravação da entrevista por telefone? Resolvi que escreveria um artigo de jornal. Reproduziria trechos da conversa com o preso e outras informações que havia obtido de autoridades americanas. Chequei dados para confirmar a credibilidade do entrevistado.
Levantei o processo a que havia respondido, falei com o advogado de defesa, com a promotoria e com um porta-voz da penitenciária. Ainda inseguro, voltei a procurar o conhecido brasileiro – aquele, que havia me ajudado com a mudança e intermediado a entrevista. Eu ia publicar o texto na Folha de S. Paulo, não poderia haver qualquer dúvida. Quis vê-lo pessoalmente. “Pode publicar”, disse, depois de ler o texto. “Tem certeza?”, eu questionei. Devo ter sido tão insistente que ele resolveu se livrar de mim: “Eu era o homem que contava o dinheiro”, revelou. E foi embora. Depois daquele soco no estômago, voltei a vê-lo algumas vezes, na rua 46, em Manhattan – na época, ponto de encontro de imigrantes brasileiros.
Senti que nunca mais o fulano me olhou do mesmo jeito. Soube que morreu, anos mais tarde, de cirrose hepática. A reportagem, que não serviu para a televisão, foi publicada no jornal com chamada na primeira página.
Texto reproduzido pelo Bom Dia Bauru em 4 de fevereiro de 2006.
 Sexta-feira, 6 de março de 2026 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 6 de março de 2026 | Porto Velho (RO)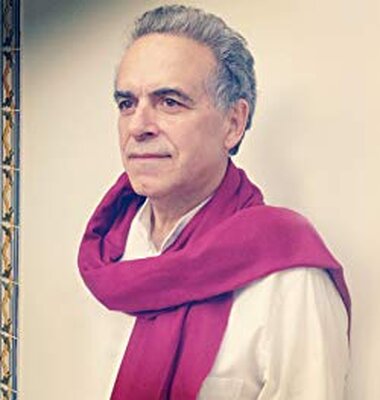
Lobo Antunes morreu, mas nos seus livros deixou-nos um límpido espelho de Portugal
A Morte de Lobo Antunes e a Sombra no FadoAntónio Lobo Antunes morreu esta quinta-feira, 5 de março de 2026, aos 83 anos. Mas a frase, assim, despida
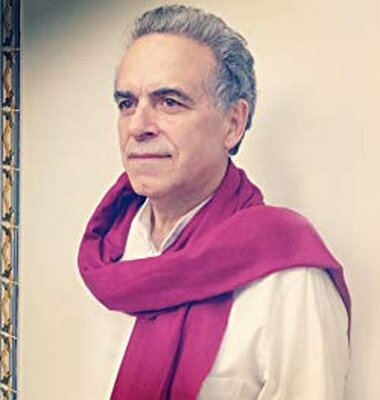
O nascimento da consciência do Ocidente
Adão e Eva e os dois caminhos culturais do Ocidente e do Oriente Na narração de Adão e Eva expressa-se o nascimento da consciência do Ocidente mar

Banco Master, o crime organizado e outras mazelas
CADA VEZ FICA MAIS ÓBVIO QUE O CASO MASTER TEM AFINIDADE COM O CRIME ORGANIZADO. Mesmo que não fosse como aqueles praticados por bandidos com cartei
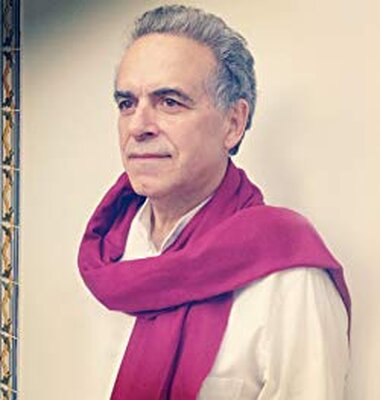
Na Alemanha ter Filhos está a tornar-se um Luxo De acordo com uma pesquisa do instituto Insa, a maioria dos alemães acredita que formar uma família se
 Sexta-feira, 6 de março de 2026 | Porto Velho (RO)
Sexta-feira, 6 de março de 2026 | Porto Velho (RO)